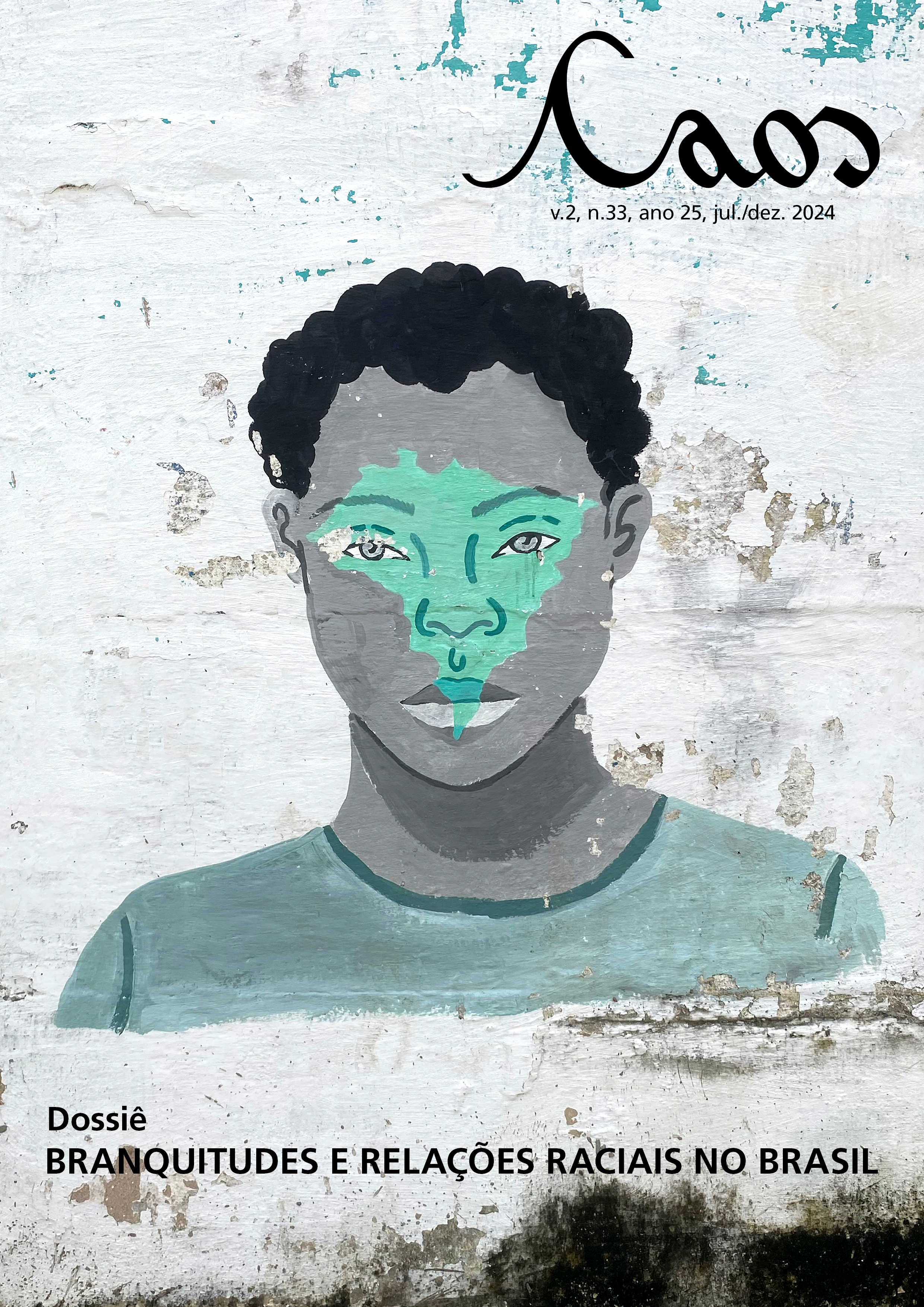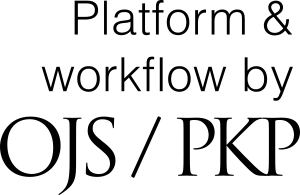“AUTOCRÍTICA DA BRANQUITUDE” NO INSTAGRAM: limites e possibilidades de um movimento
DOI:
https://doi.org/10.46906/caos.n33.70661.p27-48Palavras-chave:
branquitude, movimentos antirracistas, ativismo digital, redes sociais digitais.Resumo
A grande mobilização motivada pelos assassinatos brutais de negros nos Estados Unidos e no Brasil no ano de 2020, em plena pandemia de Covid-19, virou uma chave importante de compreensão das lutas antirracistas. Nos discursos de ativistas negros e negras, não só os perpetradores diretos da violência racista estavam no alvo da luta por justiça racial, mas toda a branquitude de modo geral passou a ser acusada de demonstrar solidariedade apenas nas aparências, mas sem engajamento efetivo e comprometido. Sob efeito dessas pressões, jovens pessoas brancas criaram, naquele ano, perfis públicos antirracistas no Instagram para divulgar conteúdo autocrítico sobre sua própria branquitude. Em 2021, analisamos o conteúdo das publicações de sete destes perfis, realizamos entrevistas com seus criadores e participamos de rodas de conversa sobre o tema, organizadas por eles e elas de modo remoto. Em março de 2024, voltamos aos perfis no Instagram para analisar se a sua atuação havia tido continuidade ou se teria sido somente efeito momentâneo das pressões sofridas mais fortemente entre 2020 e 2022. Concluímos que houve uma diminuição sensível de atividade ou interrupção total, enquanto perfis de negros e negras se mantiveram ativos e ampliaram seguidores. Se, por um lado, isso evidencia que são de fato as pessoas negras que realmente mantêm constância e compromisso com as lutas antirracistas, por outro, procuramos trazer neste artigo alguns dos aprendizados que o engajamento em rede da branquitude (auto)crítica produziu para as pessoas brancas envolvidas no letramento racial em rede.
Downloads
Métricas
No metrics found.
Referências
ANUÁRIO BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA 2020. São Paulo: Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2020. ano 14.
BELCHIOR, Douglas. Comoção antirracista da branquitude ou vira prática ou hipocrisia. Folha de S. Paulo online, 2020. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/06/comocao-antirracista-da-branquitude-ou-vira-pratica-ou-hipocrisia-diz-articulador-de-manifesto.shtml?origin=folha. Acesso em: 14 jun. 2021.
BENTO, Maria Aparecida; CARONE, Iray (org.). Psicologia social do racismo. Estudos sobre branquitude e branqueamento no Brasil. Petrópolis: Vozes, 2016.
BRASIL. Lei 12.711/2012. Dispõe sobre o ingresso nas universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio e dá outras providências. Brasília: Presidência da República, 2012. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12711.htm. Acesso em: 16 nov. 2024.
CARDOSO, Lourenço. Branquitude acrítica e crítica: a supremacia racial e o branco anti-racista. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociais, Colombia, v. 8, n. 1, p. 607-630, jan./jun. 2010. Disponível em: http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S1692-715X2010000100028&script=sci_abstract&tlng=pt. Acesso em: 29 ago. 2024.
CASTELLS, Manuel. Redes de indignação e esperança: movimentos sociais na era da internet. 2. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2017.
DOMINGUES, Petrônio. Movimento negro brasileiro: alguns apontamentos históricos. Tempo, Niterói, v. 12, n. 23., p. 100–122, 2007. Disponível em: https://www.scielo.br/j/tem/a/yCLBRQ5s6VTN6ngRXQy4Hqn/abstract/?lang=pt#. Acesso em: 29 ago. 2024.
DU BOIS, W.E.B. The souls of white folk In: DU BOIS, W.E.B. Dark water. New York: Harcourt, Brace and Howe, 1920. p. 29-52.
FRANKENBERG, Ruth. White women, race matters: the social construction of whiteness. Minnesota: University of Minnesota, 1993.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Pessoas pretas e pardas continuam com menor acesso a emprego, educação e saneamento. Agência de Notícias do IBGE, postado em 11 de novembro de 2022. Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/35467-pessoas-pretas-e-pardas-continuam-com-menor-acesso-a-emprego-educacao-seguranca-e-saneamento. Acesso em: 29 ago. 2024.
GUIMARÃES, Antonio Sergio Alfredo. Como trabalhar com raça em sociologia. Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 29, n. 1, p. 93–107, jan-jun. 2003. Disponível em: https://www.scielo.br/j/ep/a/DYxSGJgkwVyFJ8jfT8wxWxC/abstract/?lang=pt#. Acesso em: 29 ago. 2024.
KILOMBA, Grada. Memórias da plantação: episódios de racismo cotidiano. Rio de Janeiro: Cobogó, 2019.
MARCINIK, Georgia. Branquitude nos movimentos feministas. 2018. Dissertação (Mestrado em Psicologia) — Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2018.
MATTOS, Geísa. Flagrantes de racismo: imagens da violência policial e as conexões entre o ativismo no Brasil e nos estados. Revista de Ciências Sociais: RCS, Fortaleza, v. 48, n. 2, p. 185-217, 2017. Disponível em: http://periodicos.ufc.br/revcienso/article/view/19498. Acesso em: 19 nov. 2024.
MATTOS, Geísa; ACCIOLY, Izabel. ‘Tornar-se negra, tornar-se branca’ e os riscos do ‘antirracismo de fachada’ no Brasil contemporâneo. Latin American and Caribbean Ethnic Studies, [Flórida], v. 18, n. 2, p. 244-255, 2023.
MATTOS, Geísa; BARROS, Euvaldo. “Branquitude consciente” no Instagram e as novas formas de ativismo antirracista. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE SOCIOLOGIA, 20., 2021, Belém. Anais [...]. Belém: Sociedade Brasileira de Sociologia, 2021. p. 1-19. Disponível em: https://www.sbs2021.sbsociologia.com.br/site/anaisarquivoresumo. Acesso em: 19 nov. 2024.
MORRISON, T. Playing in the dark: whiteness and the literary imagination. Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1992.
MOURA, Tuany. Paternidades contemporâneas: um estudo sobre paternidade “ativa” e “positiva” nas redes sociais. 2022. Dissertação (Mestrado em Sociologia) — Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2022.
PARANÁ, Edemilson. Bitcoin: a utopia tecnocrática do dinheiro apolítico. São Paulo: Autonomia Literária, 2020.
PARISER, Eli. O filtro invisível. Rio de Janeiro: Zahar, 2011.
PIZA, Edith. Porta de vidro: entrada para a branquitude. In: BENTO, Maria Aparecida; CARONE, Iray. Psicologia social do racismo: estudos sobre branquitude e branqueamento no Brasil. Petrópolis: Vozes, 2016. p. 59-90.
RAMOS, Guerreiro. Patologia social do “branco” brasileiro. In: RAMOS, Guerreiro. Introdução crítica à sociologia brasileira. Rio de Janeiro: Editora da UFRJ, 1995. p. 215-240.
ROEDIGER, David R. The wages of whiteness: race and the making of the american working class. London; New York :Verso, 2007.
SCHUCMAN, Lia. Entre o branco, o “encardido” e o branquíssimo: raça, hierarquia e poder na construção da branquitude paulistana. 2012. Tese (Doutorado em Psicologia) — Instituto de Psicologia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012.
SCHWARCZ, Lilia. NempPreto nem branco, muito pelo contrário. São Paulo: Claro Enigma, 2012.
SOVIK, Liv. Aqui ninguém é branco. Rio de Janeiro, Aeroplano, 2009.
TWINE, Francis; STEINBUGLER, Amy C. The gap between whites and whiteness: interracial intimacy and racial literacy. Du Bois Review: Social Science Research on Race, [Cambridge, UK], v. 3, n. 2, p. 341-363, 2006.
TWINE, France Winddance. A white side of black britain: the concept of racial literacy. Ethnic and Racial Studies, [Surrey, UK], v. 27, n. 6, p. 878-907, 2004.
Publicado
Edição
Seção
Licença
Copyright (c) 2024 Geísa Mattos, Euvaldo Barros

Este trabalho está licenciado sob uma licença Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
A Caos é regida por uma Licença da Creative Commons (CC): CC BY-NC 4.0, aplicada a revistas eletrônicas, com a qual os autores declaram concordar ao fazer a submissão. Os autores retêm os direitos autorais e os de publicação completos.
Segundo essa licença, os autores são os detentores dos direitos autorais (copyright) de seus textos, e concedem direitos de uso para outros, podendo qualquer usuário copiar e redistribuir o material em qualquer suporte ou formato, remixar, transformar e criar a partir do material, ou usá-lo de qualquer outro propósito lícito, observando os seguintes termos: (a) atribuição – o usuário deve atribuir o devido crédito, fornecer um link para a licença, e indicar se foram feitas alterações. Os usos podem ocorrer de qualquer forma razoável, mas não de uma forma que sugira haver o apoio ou aprovação do licenciante; (b) NãoComercial – o material não pode ser usado para fins comerciais; (c) sem restrições adicionais – os usuários não podem aplicar termos jurídicos ou medidas de caráter tecnológico que restrinjam legalmente outros de fazerem algo que a licença permita.
Recomendamos aos autores que, antes de submeterem os manuscritos, acessem os termos completos da licença (clique aqui).